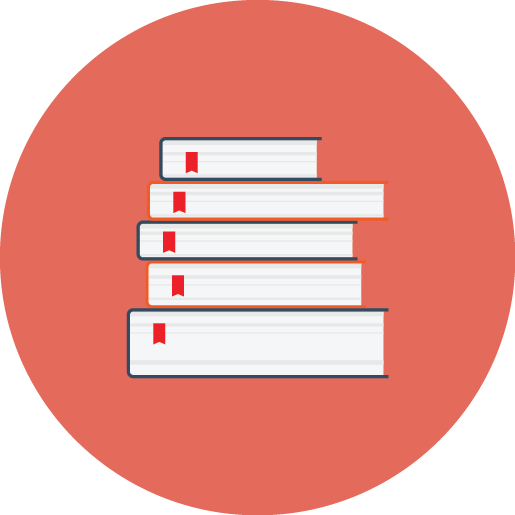Introdução
Olá, caro(a) aluno(a)! Ao longo de nossos estudos veremos os seguintes instrumentais utilizados por assistentes sociais em seu campo de trabalho:
Iniciaremos com os tipos de visitas que realizamos, domiciliar e institucional. A domiciliar é realizada na residência dos usuários visando conhecê-los em seu próprio contexto de vida e cotidiano, e a institucional é feita nas instituições que fazem parte da rede de atendimento visando um conhecimento mais amplo dos serviços, programas e projetos oferecido por elas.
A seguir discorreremos a respeito de informes e relatórios sociais. Com embasamento em autores do serviço social, os informes são documentos mais sucintos, como registro de presença em grupos, por exemplo, enquanto os relatórios sociais são mais elaborados, possuindo mais informações e reflexões.
Por último falaremos sobre a perícia social enquanto o ato de nomeação, a utilização do estudo social enquanto instrumento de aproximação e conhecimento de uma determinada realidade, laudo e parecer social, sendo que estes documentos, quando enviados a outros profissionais, manifestam dentro de suas estruturas opiniões e reflexões acerca do serviço social.
Visita (Institucional e Domiciliar): Relato de Visita
Como já afirmamos ao longo de nossos estudos, os documentos do Serviço Social devem ser elaborados com base nas dimensões teórica-metodológica e ético-política do Serviço Social, e ao realizarmos uma visita, seja ela institucional ou domiciliar, isso não é diferente.

Fonte: yupiramos / 123RF.
Sendo assim, ao longo de nossos estudos veremos como ocorre a visita domiciliar e institucional no Serviço Social e como é sua relação com as dimensões teórica-metodológica e ético-política da profissão.
SAIBA MAIS
Filme - Uma lição de amor
Direção: Jessie Nelson. E.U.A: Playarte pictures, 2001.127min.
O filme retrata a vida de um pai adulto que possui déficit cognitivo (Sam), que em certo momento de sua vida abriga uma mulher em situação de rua que engravida e logo após o abandona com o bebê. Sam passa a tomar conta de sua filha (Lucy) com a ajuda de um grupo de amigos. Quando Lucy completa sete anos de idade, começa a ultrapassar seu pai intelectualmente, o que chama a atenção de uma assistente social que quer que Lucy seja levada a um orfanato. Para saber mais, acesse o trailer, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=QBVU_U6R54A>
Fonte: Elaborado pela autora.
Antes de aprofundarmos no assunto, vamos primeiramente diferenciar a visita domiciliar da visita institucional.
A esse respeito Silva declara que:
A visita domiciliar possibilita ao (à) assistente social a visualização da realidade do (a) usuário (a) em seu contexto sociocultural, pois esse instrumento subsidia a compreensão da complexidade do contexto familiar e comunitário da pessoa atendida. Portanto, esse recurso esclarece quais estratégia das famílias para atuar em sua realidade e expõe os valores e a cultura enraizados no núcleo familiar. Além disso, é um dos instrumentos de intervenção profissional do (a) assistente social que favorece a coleta de dados e a análise da situação sócio-econômico-familiar, da saúde do grupo familiar, da situação escolar de pais ou filhos e outras situações estressoras do cotidiano familiar (2017, p. 101).
Vemos então que a visita domiciliar é aquela que ocorre na residência da população atendida e tem como principais objetivos conhecer os usuários em seu próprio contexto de vida, gerando uma aproximação ainda maior entre usuário e técnico, o que enriquece a prática profissional e nos dá mais clareza e criatividade no momento de elaborar, criar e organizar os processos de intervenção.
Amaro (2018) coloca que a visita domiciliar é uma prática profissional investigativa ou de entendimento realizada por um ou mais profissionais dentro do ambiente de convívio familiar, ou seja, na casa do usuário.
Enquanto técnica, a visita domiciliar organiza-se e ocorre por meio de um diálogo, normalmente tendo como rumo a entrevista semiestruturada.
No momento em que o profissional opta pela visita domiciliar enquanto uma escolha metodológica, Amaro (2018) alerta-nos para suas vantagens e desvantagens.
Entre as vantagens a autora elenca que, por meio da visita domiciliar, o assistente social possui um lócus privilegiado que é o de estar inserido no espaço vivido pelo sujeito, podendo contar com a receptividade do visitado. E ainda:
O fato de acontecer no ambiente doméstico, no cenário do mundo vivido do sujeito, dispõe regras de convivialidade e relacionamento profissional mais flexíveis e descontraídas que as praticadas no cenário institucional. Muitas vezes, o fato de estar junto com o usuário, compartilhando de fragmentos de seu cotidiano, facilita a compreensão de suas dificuldades, favorece o clima de confiança e acaba por fortalecer o aspecto eminentemente humano da relação constituída (AMARO, 2018, p. 15).
No entanto, quando falamos em desvantagens, Amaro (2018) aponta-nos à ausência de controle da situação, uma vez que não podemos controlar nem modificar as práticas cotidianas da família, sendo neste ponto que nos deparamo com os imprevistos. Amaro (2018) alerta então sobre o fato do visitador não poder repreender o outro em seu próprio espaço.
Amaro (2018) nos traz que, ao nos depararmos com imprevistos durante uma visita domiciliar, necessitamos de um olhar atento a eles, pois são bem-vindos e podem trazer à tona situações que de certa forma estavam “camufladas”.
Quando coloco o termo “camuflado”, faço referência ao fato do usuário esconder situações do entrevistador, às vezes por medo de perder um benefício ou receber olhares e julgamento preconceituosos.
Nosso olhar atento é necessário não para julgar os sujeitos tendo como base nossos valores e a realidade que esperamos encontrar, mas sim para compreender a realidade em sua complexidade. Para que isso ocorra, não podemos fazer interpretações apressadas sobre o que vemos.
Ou seja,
Muitas vezes, diante de nossos olhos invariavelmente preconceituosos e poucos hábeis do ponto de vista investigativo, a realidade que nos surpreende ou “choca” tende a se manifestar como um desvio ou perversão, quando na verdade não é nada disso. Não vá acreditando nos “padrões de realidade” que você conhece para neles encaixar a vida real das pessoas que você vai visitar (AMARO, 2018, p. 18).
O que podemos perceber com os estudos da autora é que, ao optarmos pela visita domiciliar, é necessário refletir sobre o instrumental, uma vez que ao realizar visita aos usuários não estamos indo em suas casas com objetivo de julgá-los ou investigá-los, no sentido de descobrir verdades e mentiras, nem para conferir seus móveis e ou se o visitado possui alimentos em seus armários ou não.
De acordo com Amaro (2018), a visita domiciliar serve para aproximar o visitador da realidade de vida da população atendida, por isso não podemos pressupor que uma família será igual a outra, ou que essa família possui tal problema porque passa pelas mesmas situações que outra família.
No entanto, precisamos ter um olhar investigativo no sentido de observar possíveis violações de direitos e situações de violência.
Amaro (2018) coloca o seguinte exemplo: quando nos deparamos com uma criança ou adolescente dormindo durante o horário em que deveriam estar na escola, então falamos que “fulano” não estuda por ser preguiçoso; no entanto, não sabemos se aquela criança ou adolescente trabalhou a madrugada toda vendendo jornais e por isso está cansada.
Quando temos esse olhar estamos analisando a situação através de nossos próprios valores, não a situação real.
Neste caso, não devemos julgar a pessoa por estar dormindo, mas sim pensar em estratégias para que a situação seja mudada.
Pra que isso não ocorra precisamos sempre ter sempre um olhar complexo, visando enxergar a realidade como um todo, entendendo que as situações vivenciadas pelas famílias não estão isoladas, mas pertencem a um quadro mais amplo; é preciso analisar a realidade junto a essa amplitude que trará um olhar crítico e ético à visita domiciliar.
Portanto, para realizar uma abordagem complexa, Amaro (2018) diz que devemos fazer e responder a essas três questões: Por que visitar? Quando visitar? Com quem visitar?
Pois bem, já sabemos que em uma visita domiciliar temos o objetivo de levantar o máximo de informações possível relacionado à demanda levantada.
Por que visitar?
Porque visitar está ligado à necessidade de organizar uma visita domiciliar, traçando seus objetivos e a melhor maneira de se aproximar da realidade do sujeito ou grupo visitado, e desta forma elaborar um roteiro de perguntas que devem ser respondidas é indispensável.
Diante disso, o profissional deve se esforçar para atingir o objetivo da visita, não perdendo de vista seu profissionalismo. Vemos aqui a necessidade de manter uma relação respeitosa com o usuário sem se mostrar íntimo do sujeito, mas não estamos falando de uma rigidez profissional, podemos sair do nosso assunto e tratar de outros postos pelo visitado, só não podemos perder o foco do objetivo da visita.
Quando visitar?
De acordo com Amaro (2018), a visita domiciliar pode ser realizada sempre que o profissional achar necessário, mas isso não significa que o usuário não deva ser avisado, muito pelo contrário, devemos respeitar o cotidiano e atividades dos visitados e por isso o agendamento da visita junto ao usuário ou grupo visitado é indispensável.
Com quem visitar?
Diferente de uma reunião de amigos ou um encontro convencional, a visita domiciliar não é um acontecimento em que sempre cabe mais um; por isso Amaro (2018) chama atenção para a necessidade de privilegiar a companhia profissional para realizar a visita, e isso significa optar por realizar visitas com profissionais (2 ou 3 profissionais, no máximo) que vão, de forma positiva, contribuir para a solução da demanda em questão, sendo necessário ainda avisar ao visitado quais profissionais que irão realizar a visita e o motivo da participação de cada um deles.
Sendo assim,
O importante é que se evite a companhia de pessoas leigas, assim como profissionais que têm alguma reserva ou preconceito relacionado ao grupo que você vai visitar. uma atitude inesperada desses sujeitos pode comprometer a qualidade de sua visita, desde a formação de um clima agradável para o relacionamento até o diagnóstico ou o tipo de atendimento que você pretende realizar (AMARO, 2018, p. 48).
Outro aspecto importante que a autora coloca é que durante uma visita não podemos fumar, mascar chicletes ou comer guloseimas. É preciso atenção para que o número de visitadores não ultrapasse o número de visitados, olhar o prontuário da família antes de realizar uma visita para planejá-la da melhor forma possível, e atenção ao fato de que quando se tratar de residências muito simples, mais de um visitador pode causar constrangimento ao visitado e sua família.
Referente à visita institucional, podemos colocar que ela é:
Outra intervenção profissional capaz de responder às demandas sociais é a visita institucional, que proporciona a criação de alternativas e planos de intervenção em conjunto com outro serviços [...] No cenário contemporâneo, são fundamentais a intersetorialidade e a interdisciplinaridade entre as políticas sociais públicas. Por isso o (a) assistente social realiza visitas institucionais a fim de discutir casos e mapear recursos disponíveis nos serviços que compõem a rede, para referência e contrarreferência de situações (SILVA, 2017, p. 101-112).
Percebemos então que a visita institucional são as visitas realizadas a outras instituições da rede de atendimento e tem como principal objetivo nos levar a conhecer os serviços prestados pela rede em que estamos inseridos e seus profissionais.
E isso, caro(a) aluno(a), é de extrema importância pois facilita significativamente nossas intervenções, pois já saberemos para onde encaminhar os usuários de acordo com as demandas apresentadas por cada um, e teremos com quem conversar durante o processo de encaminhamento, acompanhamento, referência e contrarreferência.
REFLITA
Coragem
O momento em que vivemos é um momento pleno de desafios. Mais do que nunca é preciso ter coragem, é preciso ter esperanças para enfrentar os sonhos e concretizá-los dia a dia no horizonte de nossos tempos mais humanos, mais justos, mais solidários.
Fonte: Iamamoto (2000, p. 166).
Como já vimos, a visita institucional serve como um instrumental que o(a) assistente social utiliza para realizar um mapeamento dos diversos campos institucionais, facilitando significativamente a articulação com a rede.
Pois bem, de acordo com Souza existem inúmeras as motivações que levam o(a) profissional a realizar a visita institucional, e ele nos apresenta três destas motivações.
Sendo elas:
1.Quando o Assistente Social está trabalhando em uma determinada situação singular, e resolve visitar uma instituição com a qual o usuário mantém alguma espécie de vínculo;
2.Quando o Assistente Social quer conhecer um determinado trabalho desenvolvido por uma instituição;
3.Quando o Assistente Social precisa realizar uma avaliação da cobertura e da qualidade dos serviços prestados por uma instituição (SOUZA, 2008, p. 129).
O autor nos alerta para a seguinte situação: ao observar as motivações que nos levam a realizar uma visita institucional, percebeu-se que as duas últimas estão relacionadas ao conhecer e avaliar a qualidade da política social que está sendo ofertada pela instituição, o que requer de nós, enquanto profissionais, um vasto conhecimento técnico e teórico das políticas sociais.
Outro ponto que podemos perceber é que o mesmo instrumental pode ser utilizado em momentos distintos e até mesmo em conjunto com outros, mas a observação participante está presente em todos os momentos. Isso ocorre porque nossa atuação profissional, assim como os instrumentais técnico-operativos do serviço social, não é estática, e estamos em constante movimento - fato que enriquece o fazer profissional, ampliando de forma significativa as estratégias de intervenção.
Encerrando o tópico sobre as visitas domiciliar e institucional, falaremos a seguir sobre seus registros.
Ao longo de nossos estudos falamos sobre o registro de nossas atividades e atendimentos, e com as visitas não é diferente, pois ambas precisam ser devidamente registradas.
Sobre isso diz Amaro:
Construir a memória da visita é importante. A sistematização dos relatos orais, das observações, dos encaminhamentos, e das conclusões obtidas deve estar presente no registro de visita e ser incluída entre os documentos que historiam o atendimento da família ou indivíduo em tela (AMARO, 2018, p. 53).
Por isso a autora recomenda que os profissionais e as instituições mantenham prontuários onde as informações são arquivadas para acompanhamento familiar.
Desta forma, as informações colhidas e observadas ao longo da(s) visita(s) poderão servir de apoio para elaboração de estudos, avaliação e abordagem de “casos”, rompendo assim com a visão empírica das demandas que chegam até nós.
Para isso autora sugere a utilização de blocos de notas, cadernos ou agendas, onde pode-se anotar as informações mais importantes que nos remeterão a memória, ideias e mensagens secundárias mas que completam as informações, lembrando sempre de avisar o visitado sobre as anotações e sua intenção, estabelecendo assim uma relação humana entre as partes.
Informe e Relatório Social
De acordo com os estudos de Craveiro (2018), observou-se nas últimas décadas uma ampliação das solicitações de documentos técnicos elaborados pelo Serviço Social. Conforme discutido sobre a dimensão técnico-operativa da profissão, é por meio de seus instrumentos indiretos que ela contribui para a tomada de decisões de outros profissionais, expressando ainda o caráter e o direcionamento ético e político do profissional.

Fonte: arcady31 / 123RF.
Como exemplo desses documentos temos o relatório social. O objetivo principal desse tópico é debater a sobre a elaboração de relatórios e relatórios sociais produzidos por assistentes sociais.
A Lei 8662 de 1993 que regulamenta a profissão estabelece em seu 4º e 5º parágrafos competências e atribuições do Assistente Social, dentre elas no inciso IV do art. 5º está: “realizar vistorias, perícias, técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria do Serviço Social”.
Craveiro diz:
A produção dos nossos documentos técnicos não podem estar isenta a essa reflexão, afinal, esses documentos vêm sendo utilizados, por exemplo, pelo Sistema de Justiça como subsídios para a tomada de decisões que alteram e interferem diretamente nas relações sociais estabelecidas [...] Ao produzirmos um documento técnico direcionado pelos princípios fundamentais do nosso Código de ética e encaminharmos este para outros profissionais e setores, não podemos deixar brechas para dupla interpretação ou até mesmo, para interpretações equivocadas da mensagem que gostaríamos de transmitir (CRAVEIRO, 2018, p. 221).
Sendo assim, é necessário observar e sempre estar atento ao conteúdo escrito em nossos documentos, de modo que todas as informações transcritas em nossas produções técnicas estejam claras a quem ler.
Por esse motivo, Craveiro (2018) destaca que a ética no Serviço Social não pode restringir-se apenas à academia. A discussão a respeito da ética profissional deve ser realizada constantemente em nosso ambiente profissional, fazendo com que a teoria dialogue com a prática, permitindo que o profissional vença o processo burocrático que permeia sua atuação e ainda consiga enxergar os limites e as possibilidades da produção técnica e a divulgação de seus documentos.
SAIBA MAIS
A práxis no Serviço Social
O vídeo elaborado pela professora Núbia Lima traz de forma clara e prática o que é a práxis profissional. A professora coloca que, segundo Marx, a práxis está relacionada à capacidade que o homem (ser humano) tem de transformar seu ambiente externo a partir de uma leitura crítica e reflexiva da sociedade. Para saber mais, acesse:
<https://www.youtube.com/watch?v=eQ-UHXkqlWg&t=155s>.
Fonte: Elaborado pela autora.
Quando falamos em informes e relatório social, estamos nos referindo a instrumentais que registram informações, tanto de forma simples como de forma mais reflexiva.
Ao longo dos estudos de Craveiro (2018), observa-se que existem informes, documentos mais simplificados, que são realizados com mais frequência no cotidiano profissional, como os relatos de visitas, de entrevistas e de atendimentos, que são conhecidos como informativos.
Ou seja,
Muitos assistentes sociais emitem frequentemente, por meio de documento escrito, informações relacionadas a uma determinada situação, como por exemplo, a frequência e a adesão dos membros de uma família nas atividades das instituições que compõem a rede de proteção aos públicos vulneráveis, às atividades desenvolvidas pelos profissionais, etc. Ao apenas mencionar determinado fatos, sem a interpretação sobre o olhar do Serviço Social, o documento emitido tratará de um informativo e não de um relatório social (CRAVEIRO, 2018, p. 224).
O relatório social nos remete a algo mais elaborado, reflexivo e completo. Craveiro (2018) aponta que o relatório social descreve e interpreta situações e problemáticas que estão ligadas diretamente à questão social, ou seja, interpreta de forma crítica as expressões da questão social que chegam aos profissionais como demandas.
Seguindo os estudos da autora, o relatório social pode ser elaborado por meio da aplicação de outros instrumentais do Serviço Social, como entrevistas e visitas.
Devido essa diferença entre informe e relatório social, Craveiro (2018) faz o seguinte apontamento: para que o documento seja um relatório social, deve explicar as tomadas de decisão e os encaminhamentos realizados tendo como base o saber teórico-metodológico, extrapolando assim o campo burocrático e o tecnicismo (o fazer sem reflexão).
Sobre a estrutura do relatório social, Craveiro (2018) coloca que ele não possui uma estrutura fixa, mas há elementos que podemos examinar ao elaborá-lo.
Vejamos só,
O profissional deve valer-se de suas competências teóricas, éticas e técnicas para avaliar os aspectos importantes a serem registrados, considerando aqueles que, de fato podem contribuir para o acesso, a garantia e a efetivação de direitos. Assim, é desnecessário o registro excessivamente detalhado de informações que não servirão para os objetivos do trabalho (FÁVERO, 2009, p. 631 apud CRAVEIRO, 2018, p. 224).
Craveiro (2018) conclui que o profissional deverá sempre apresentar informações referentes ao objeto de estudo, a finalidade do documento, os procedimentos utilizados, um breve relato sobre a situação e informações coletadas por meio de instrumentais e técnicas que irão de fato contribuir para a viabilização e efetivação de direitos sociais; é necessário também apresentar os sujeitos envolvidos e uma análise da situação.
Além dessas informações, Craveiro (2018) acrescenta que o relatório social pode conter conclusão, indicando o que foi constatado pelo profissional de Serviço Social, fortalecendo seu posicionamento enquanto técnico em uma perspectiva crítica, podendo também manifestar informações e um parecer a respeito da situação.
Finalizando nossos estudos a respeito do relatório social e sua elaboração, o relatório social traz informações que não precisam necessariamente estar presentes em um parecer social, mas pode conter um.
Em contrapartida, quando o comparamos com um laudo social, o relatório torna-se, segundo Craveiro (2018), mais sucinto e simples.
Veremos a seguir a elaboração dos seguintes documentos técnicos: estudo, laudo e parecer social. Então vamos lá!
Perícia Social: Laudo, Estudo e Parecer Social
Considerando os estudos de Silva (2017), o contexto atual de crise no sistema capitalista tem impactado diretamente as políticas sociais públicas e o trabalho do assistente social; como exemplo temos o alto índice de processos de judicialização das demandas sociais na busca pelo acesso aos direitos sociais.

Fonte: nicolasmenijes / 123RF.
Na saúde temos a busca pela concessão de medicação, na educação, a busca por vagas em instituições de ensino, na segurança pública, os programas de execução de medidas, na assistência social, diversas questões a respeito da ruptura dos vínculos familiares, situações de risco e vulnerabilidade social, e na previdência, a concessão de benefícios previdenciários.
Diante disso faz-se necessário o conhecimento e as habilidades da perícia social, sendo esta uma especificidade do Serviço Social.
No entanto, a perícia social, conforme Fávero (2009) e Silva (2017), não diz respeito a um documento propriamente dito, mas sim ao ato de nomeação de um perito realizado pelo juiz.
Silva (2017) nos mostra que
A perícia social propriamente dita envolve segredo de justiça; o processo é de acesso das partes envolvidas com os respectivos advogados. Contudo o Código de Ética do Assistente Social (Cfess, 2011, capítulo V - Do Sigilo Profissional, art. 18) exige o sigilo no exercício de perito, com exceção do momento em que o (a) profissional coloca o (a) usuário (a) a par de dados relevantes e daquelas informações que constarão no laudo social (p. 182).
Desta forma, a autora nos mostra a questão da ética profissional e o respeito pelo usuário, afinal, tanto o processo como a demanda é dele, e o sujeito tem o direito de estar a par daquilo que será exposto, e nós, enquanto peritos assistentes sociais, temos o dever de levar ao conhecimento do usuário as informações que serão expostas.
REFLITA
Informação x Usuários
No processo de geração de informações, é possível o primado da relação entre usuário do serviço e técnico no lugar de uma mera mediação entre interesses da instituição e demandas do usuário. Para isso é necessário a construção de uma relação junto ao usuário em que ele detém a centralidade acerca dos objetivos profissionais em detrimento de uma ação imediatista dos requisitos institucionais. Assumir essa posição exige muito mais que uma discursividade de “defesa de direitos”, mas compreender a priori o impacto desse direito para a reprodução da existência do usuário e sua família, bem como as estratégias que o sujeito utiliza para obter a contemplação.
Fonte: Oliveira e Sampaio (2018, p. 180).
Silva (2017) esclarece que o processo criminal é de caráter público, não sendo então sigiloso, mas quando se trata de questões familiares e da infância os processos são tratados de maneira sigilosa.
Muitas vezes nos perguntamos: como se dá a construção do conhecimento na área do Serviço Social para que os profissionais possam responder a uma perícia social?
Essa construção, de acordo com Fávero (2009), ocorre por meio do estudo social.
E que é um estudo social? de acordo com Fávero (2009), é um processo de trabalho específico do Serviço Social utilizado pelo profissional para conhecer e interpretar a realidade em que está inserida uma determinada situação e expressão da questão social, tendo ainda a seguinte finalidade:
No meio Judiciário, o estudo social, com a finalidade de oferecer elementos para a decisão judicial, pode ser denominado perícia social, isto é, o juiz solicita e nomeia um perito, que é um profissional com conhecimento especializado na área – nesse caso, graduado em Serviço Social – para a realização da perícia social, de maneira a contribuir como suporte à decisão que irá tomar. O profissional poderá registrar esse conhecimento por meio de alguns documentos, entre eles, a informação técnica, o relatório, o laudo e o parecer, documentação essa objeto de detalhamento mais à frente (FÁVERO, 2009, p. 04).
Por ser nomeado pelo juiz para realizar um estudo referente à situação em questão, o perito precisa emitir um parecer a respeito dela, podendo ser, conforme Fávero (2009), por meio de um relatório ou laudo social, documentos privativos do assistente social. Por isso, caso ocorra alguma situação em profissionais de outras áreas os elaborem, o ato deve ser denunciado aos órgãos de segurança pública ou de justiça.
Conforme Fávero (2009), o estudo social não é único do meio judiciário, podendo ser realizado em qualquer outro campo de atuação do Serviço Social. No entanto, quando se trata do sistema jurídico, o estudo ou a perícia pode ser realizado por um assistente social servidor da instituição, ou por servidor de outro órgão da Administração Pública estadual ou municipal.
Por ser um instrumental privativo do Serviço Social, Fávero (2009) aponta que é uma prerrogativa do assistente social definir e estabelecer o modo e os meio necessários para cumprir seus objetivos.
Por exemplo, cabe ao assistente social verificar como serão colhidas as informações por meio de entrevistas, visitas domiciliares ou outros meios necessários.
Ou seja,
É esse profissional que, por uma ação refletida e planejada, define quais conhecimentos deve acessar e em que nível vai aprofundá-los; se necessita realizar entrevistas, com quem e quantas pessoas (por exemplo, com a criança, o adolescente, o pai, a mãe, outro adulto, responsáveis por escola ou outro equipamento social que frequentam etc.), se deve realizar visitas domiciliares e/ou institucionais, se precisa estabelecer contatos variados com a rede familiar e a rede social, se deve consultar material documental e bibliográfico e quais, etc. (FÁVERO, 2009, p. 22).
Em muitos casos, diz Fávero (2009), poderá ser solicitado que o profissional responda a algumas questões referentes às partes envolvidas, mas cabe ao assistente social responder àquelas que dizem respeito a prerrogativas, princípios e especificidades da profissão, respondendo apenas ao que for de sua alçada.
FIQUE POR DENTRO
Resolução CFESS N° 557, de 15 de setembro de 2009.
Considerando que o assistente social vem trabalhando em conjunto com profissionais de outras áreas e em equipes multiprofissionais visando compreender os sujeitos em sua totalidade, o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), dispõe nessa resolução ‘sobre a emissão de pareceres, laudos, opiniões técnicas conjuntas entre o assistente social e outros profissionais’.
Fonte: CFESS (2009).
Daremos continuidade a nossos estudos falando sobre o laudo social. Fazendo uma breve reflexão sobre o termo, Craveiro (2018) aponta que laudo é um termo utilizado em diversas categorias profissionais, mas o laudo social diz respeito a um instrumental privativo do Serviço Social.
O laudo social, de acordo com Craveiro (2018), é emitido frequentemente por assistentes sociais no âmbito jurídico por peritos nomeados e assistentes técnicos indicados, sendo então um documento utilizado como contribuição de prova com o objetivo contribuir à solução de conflitos.
Para elaborar um laudo social, o profissional precisa realizar um estudo social. Neste sentido,
O laudo é o registro que documenta as informações significativas, recolhidas por meio do estudo social, permeado ou finalizado com interpretação e análise. Em sua parte final, via de regra, registra-se o parecer conclusivo, do ponto de vista do Serviço Social. Conclusivo no sentido de que deve esclarecer que, naquele momento e com base no estudo científico realizado, chegou-se à determinada conclusão. Para a efetivação desse registro, o profissional vai ter como referência conteúdos obtidos por tantas entrevistas, visitas, contatos, estudos documental e bibliográfico que considerar necessários para a finalidade do trabalho (FÁVERO, 2009, p. 28).
Diante do exposto, podemos concluir que o laudo social é a sistematização das informações coletadas ao longo do estudo social que será enviada ao poder judiciário quando concluída sua elaboração.
De acordo com Craveiro (2018), o laudo deverá conter, além das informações coletadas, análises de conclusivas, diretrizes e sugestões.
No entanto, a autora esclarece que não existe uma estrutura única para elaboração de um laudo social, porém algumas questões precisam ser observadas, como a maneira com que o Serviço Social se manifestará a fim de atingir suas finalidades e intenções profissionais.
Referente aos elementos que devem conter em um laudo, o Código de Processo Civil (CPC), coloca que:
Art. 473. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público.§ 1º No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões.§ 2º É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia.
§ 3º Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia.
Considerando o exposto pelo CPC, a base teórico-metodológica do serviço social e os estudos de Craveiro (2018), podemos colocar que, quando iniciado, o laudo social deverá conter a indicação do objeto de estudo, apresentando em seguida a metodologia utilizada na coleta das informações, esclarecendo quais foram os instrumentais e técnicas utilizados que deram subsídios à construção do laudo, podendo ainda em seu corpo conter diferentes tópicos que organizem de forma clara as informações coletadas; ainda sobre a estrutura do laudo, Fávero (2009) diz:
Sua apresentação geralmente segue uma estrutura constituída por: introdução, indicando a demanda judicial e objetivos do trabalho; identificação das pessoas envolvidas na ação e que direta e indiretamente estão incluídas no estudo; a metodologia utilizada para a efetivação do trabalho (entrevistas, visitas, contatos, estudos documental e bibliográfico etc.) e a definição breve de alguns conceitos utilizados, na medida em que o receptor da mensagem contida nesse documento não necessariamente tem familiaridade com os conhecimentos da área do Serviço Social. Assim, seu caráter científico e as especificidades da área são clareados; em sequência, registram-se os aspectos socioeconômicos e culturais que podem ser permeados pela análise ou finalizados com a análise interpretativa e conclusiva, também denominada de parecer social. O parecer social sintetiza a situação, apresenta uma breve análise e aponta conclusões ou indicativos de alternativas, que irão expressar o posicionamento profissional frente ao objeto de estudo (FÁVERO, 2009, p. 09).
Desta forma, o laudo social deve conter os dados coletados durante o estudo social com fundamentação teórica e técnica próprias do serviço social. Segundo Craveiro (2018), no laudo serão relatadas informações importantes que foram adquiridas ao longo do estudo, fundamentando um parecer social, ou seja, a opinião do profissional.
Ao se tratar da linguagem utilizada pelo técnico na elaboração do laudo social, segundo Craveiro (2018), por ser um material que contribui à decisão de profissionais de outras áreas que muitas vezes não estão familiarizados com os termos utilizados pelo Serviço Social, o documento deverá ser construído com uma linguagem simples, mas sem perder seu caráter técnico. Ele deve obrigatoriamente conter em em sua parte final o parecer social do profissional.
Perícia social

Estudo social

situação, realizado por meio de visitas, entrevistas entre outro instrumentos que o profissional achar conveniente, não será enviado à outros profissionais;
Laudo social

O parecer social é a opinião do assistente social formulada a partir do Serviço Social.
No entanto, o parecer social, como aponta Craveiro (2018), pode ser produzido no próprio laudo, em outro documento ou pode ser emitido separadamente para determinar uma avaliação técnica, como os elaborados por assistentes sociais que trabalham em políticas públicas para a concessão de benefícios sociais e inclusão de atendimento em programas e projetos institucionais.
Nesse sentido, o parecer social manifesta a opinião do profissional sendo subsidiado por estudos e observação das demandas e situações.
Porém,
O fato do parecer ser conclusivo não significa que ele deva indicar o que o outro profissional deve fazer, ou seja, qual a medida a ser adotada em uma determinada situação, mas sim, deixar claro a perspectiva profissional do assistente social frente ao contexto analisado (CRAVEIRO, 2018, p. 227).
Assim como no laudo social e alguns outros documento próprios do Serviço Social, o parecer social não possui uma estrutura única, mas quando for elaborado em um corpo próprio, ou seja, separado de outro documento, Craveiro (2018) afirma que ele deverá conter inicialmente o objetivo pelo qual o documento foi solicitado, as partes envolvidas, os instrumentais e as técnicas utilizados na elaboração do parecer, e desta forma possibilita um acesso mais geral à situação em questão.
O parecer social é, portanto, um importante instrumental para a viabilização de direitos sociais, e por isso deve ser elaborado de forma sucinta para transmitir com clareza e coerência a opinião do assistente social.